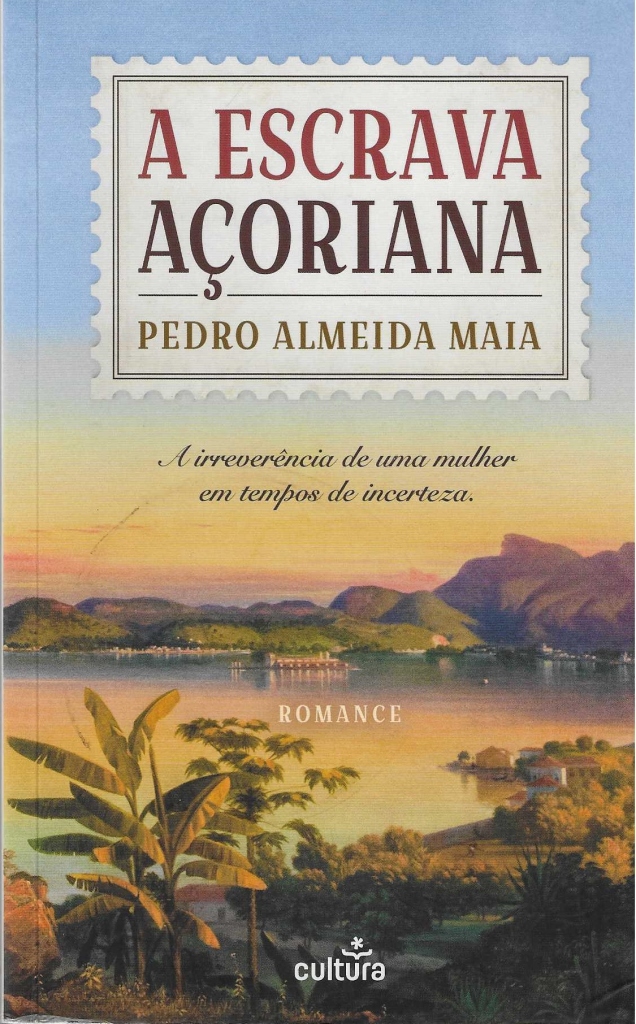Para ser mais rigoroso, o subtítulo do meu texto devia substituir Gaspar Frutuoso por o discurso ou discursos da história. Isto permitiria dar melhor conta da amplitude do objeto desse diálogo, que em José Martins Garcia não se limita ao cronista quinhentista. Seja como for, o mais relevante, neste caso, será realçar aquilo que sumariamente aí se enuncia: o texto de Gaspar Frutuoso como propiciador da aproximação de dois escritores tão distanciados entre si como José Martins Garcia e Daniel de Sá, em termos de escrita, de compreensão ou visão do mundo e também dos modos de representá-lo. No primeiro deles, uma visão pessimista anula a possibilidade de um qualquer amanhã (mesmo daqueles que não cantam) e até o passado só existe enquanto matéria que a memória revolve de forma exacerbada no seu desespero e na sua angústia e que alguns narradores transformam em simples produto contrabandeável. Em Daniel de Sá, uma visão construtiva e finalística (teleológica) da história, sujeita, portanto, a um progressivo aperfeiçoamento, proporciona o traço de esperança que, em regra, lança um rasto de luz, mesmo que breve, sobre as ruínas da humanidade e dá sentido ao percurso individual.
Nisso residirá, estou em crer, uma parte da explicação para o diferente modo como cada um dos dois autores do século XX se aproxima do texto de Gaspar Frutuoso, o convoca, relê e reescreve, para lá de aspetos que traduzem um comum ponto de partida ou de vista.
O romance A Fome (1977), de Martins Garcia, e a Crónica do Despovoamento das Ilhas (1995), de Daniel de Sá, constituem o objeto da minha análise, que representa simplesmente o primeiro e curto passo de uma abordagem mais desenvolvida e aprofundada.
A Fome poderá entender-se essencialmente como um romance de personagem, se atendermos a que textualiza o percurso do jovem estudante António Cordeiro, narrador da sua própria experiência, uma experiência de iniciação na vida e nos seus mistérios, seja ela a do “mundo abreviado” (V. Nemésio) da ilha (Pico, Faial), seja a do grande mundo, de que Lisboa é apenas a parte do todo (França, Estados Unidos em narrativas posteriores).
Todavia, e a um outro nível, o percurso individual é indissociável de um percurso colectivo, torna-se a concretização particular de um destino que se projecta sobre a personagem como manifestação de uma fatalidade histórica, até porque a viagem marítima que António Cordeiro empreende para Lisboa em 1956 apelará a outras viagens e a um destino colectivo de errância que uma visão apocalíptica propicia: “o fim do mundo já acontecera: e Deus salvara uns, condenara outros, e deixara os restantes a vaguear” (Garcia, 2016: 17).
Mas António Cordeiro é um narrador-protagonista com algumas particularidades, dado que ao longo do seu relato se vai metamorfoseando e assume várias vozes e rostos, em articulação com determinadas «estratégias metatextuais» delineadas desde o início através da citação de excertos de três cronistas açorianos: Gaspar Frutuoso, Frei Diogo das Chagas e António Cordeiro.1 Incorporados no discurso, por vezes mesmo objeto de apropriação por parte de um outro narrador que os apresenta como seus (Garcia, 2016: 28), os fragmentos selecionados por Martins Garcia, de notória dimensão lendária, veicularão uma perspetiva hoje problematizável da história insular. As citações em causa não se apresentam como simples argumento de autoridade, a caucionar uma afirmação própria e a dar-lhe credibilidade e consistência, ou como exercício de ostentação de saberes e de utensilagem textual; nem sequer reclamam, ou o autor reclama para elas, o estatuto de fontes documentais ao serviço de uma reconstituição histórica, para o que poderia apontar, num primeiro momento, a sua natureza de crónica sobre as ilhas e a formação da sociedade açoriana (mesmo que não exclusivamente sobre estas). Na verdade, A Fome não é um romance histórico (veja-se o modelo enunciativo), não se conjuga com o modelo tradicional do género, que se propunha, entre a ficção e os referenciais empíricos, a configuração de uma determinada época, com as suas personagens e ambientes.
Os excertos citados tornam-se funcionais pela interpretação que deles faz o narrador, pela leitura «crítica» a que os submete, confrontando-os uns com os outros e estabelecendo-lhes uma organização hierárquica, pelo menos em relação a alguns conteúdos narrativos (mais válidos uns do que outros), tudo isso num diálogo nem sempre reverencial e acomodatício com esses antecessores. Numa breve anotação sobre Frutuoso, afirma o narrador em nítido distanciamento irónico: «O doutor Gaspar Frutuoso, ministro de Deus e divulgador de fábulas, cronista e ficcionista por graça da verdade e da mentira» (Garcia, 2016: 22). Se a «mentira» se coaduna com o estatuto do autor de ficção que Gaspar também foi, a «verdade» já não parece adequar-se ao «divulgador de fábulas» e estas ainda menos ao estatuto de cronista. E ao comparar António Cordeiro com Frutuoso, escreve que o primeiro «conseguiu, em muitos aspectos, superar em grandeza suspeita o testemunho atribuído a Gaspar Fructuoso…» (Garcia, 2016: 20).
A crónica quinhentista (e a posterior) está, deste modo, sob suspeição e Martins Garcia aproveita dela alguns aspetos mais problemáticos do ponto de vista histórico, isto é, fantasiosos ou lendários, para os integrar no discurso narrativo, fazendo-os participar na sua matéria ficcional, lado a lado com as fábulas provenientes da tradição oral. A Fome abre com o relato do episódio vagamente fabuloso de Dona Matilde, a explicadora de francês, que será posteriormente interpretado como imagem especular de outro já relatado por Frutuoso e António Cordeiro:
«Surgira glorioso o corpo nu da mulher, diante da tripulação embasbacada do barco que rumava a Nova Iorque. Por um caprichoso esquecimento, a fábula não relata todas as consequências de tamanho despudor. Dona Matilde, por graça da cútis fulgurante, deitou-se num sol de lenda, entre as costas americanas e os penedos atlânticos, prostituída e santa como Maria Madalena. E o pai, fidalgo de cepa flamenga, atirou-se borda fora, lavando a desonra no mar sulcado, em primeira mão, por seus antepassados.» (Garcia, 2016: 15).
A inscrição histórica da aristocracia flamenga e das viagens para oeste e ainda a dimensão profana do episódio afastam-no do sentido místico e religioso que atravessa o episódio original em Frutuoso (reescrito por António Cordeiro), onde a visão da mulher vestida de branco (afinal, o Demónio disfarçado de Virgem Maria) era também um apelo à descoberta e à viagem (de perdição) entre o Faial e o Pico:
«…respondeu [o Ermitão] que da vizinha ilha do Pico lhe aparecia uma mulher vestida de branco, que o chamava de lá, que se fosse para ela, e que por lhe parecer que era a Virgem Senhora, fazia aquele barquinho, de couro por fora, e determinava de passar lá quando a Senhora outra vez o chamasse: os que o ouviram o tiravam disso, e contudo o Ermitão ficou acabando o seu barquinho e se meteu nele ao mar, e nunca mais foi visto nem achado; e assim o demónio com capa de santidade fez morrer aquele Santo Ermitão, sem dele nem do barqueiro se saber mais.» (Garcia, 2016: 20-21).
O romance terminará, em movimento de circularidade ou de retorno cíclico e explicitando o próprio processo da escrita, com a recuperação da sua frase inicial e em articulação direta com o fragmento do cronista acabado de transcrever acima, num contexto de diferente significação. Mas, ao longo da narrativa, a «aparição» fora sendo retomada como um elemento da diegese, «a mulher de branco» surgira, metamorfoseada, a personagens diversas e em circunstâncias distintas umas das outras, tornara‑se como que um leitmotiv, estabelecendo uma determinada articulação da narrativa e uma afinidade entre os seres que a povoam.
A opção por um narrador que conta a sua história (autodiegético), cujos marcadores formais só se tornam manifestos no segundo parágrafo da obra, é uma estratégia que permite ao narrador transmutar-se ao longo de cinco séculos, assumir diferentes papéis e vozes, ora singulares, ora plurais (o «nós») e transportar‑se para espaços tão distantes e díspares, condensando em si uma «sobrecarregada memória» de fome, peste e terramotos que é, em síntese, a da condição insular açoriana e da dispersão no mundo. Em nome de uma auto-designada «estética da transmigração», o narrador de A Fome pode, sem transição, ser o «eu» do Constantino caçador de baleias (Garcia, 2016: 124) e do Belarmino preso na Vila da Madalena (Garcia,2016: 100 e 103) ou o «nós» dos bravos do Mindelo (Garcia, 2016: 182). E pode ser igualmente a vítima escolhida para o retorno do episódio do dr. Fernão de Pina Marrecos relatado pelo cronista (Garcia, 2016: 22-24), num processo cíclico que atesta a permanência de mecanismos feudais de dominação e opressão social ainda em meados do século XX.
O facto de o narrador também se chamar António Cordeiro proporciona-lhe a possibilidade de interpelar o cronista e o seu texto num jogo especular e de constituir‑se como uma réplica de alguns dos seus dados biográficos, inclusive no ofício da escrita e no registo da memória pessoal e alheia: «E no silêncio do quarto ou do claustro, uma mesinha para escrever. Talvez continuar a História Insulana das Ilhas a Portugal Sujeitas, suspensa no ano de 1715, em presença desse absurdo chamado Morte…» (Garcia, 2016: 149). Este hipotético prolongamento que A Fome representaria faz‑se, porém, em moldes enunciativos muito particulares, pois organiza‑se em torno de uma personagem central que relata o seu percurso num período de tempo preciso, de 1953 ao início dos anos 60, e é nessa história individual e contemporânea que vêm inscrever‑se alguns acontecimentos da história coletiva remota e, sobretudo, o retorno das experiências de cinco séculos, replicando-se no presente como um estigma original, o da insularidade enquanto geografia e história.
A recorrência do nome António Cordeiro na ficção de Martins Garcia não pode passar sem a consideração do investimento semântico de que é objeto por parte do autor. Antes de chamar‑se «Carvalho Araújo», o navio em que o protagonista de A Fome viaja tinha tido o nome do cronista António Cordeiro, que, «em hora de blasfémia monopolista, uns senhores de São Miguel haviam obscurecido.» (Garcia, 2016: 25). Se a atribuição do nome ao narrador veicula valores simbólicos associados à história e ao seu relato, a aplicação ao navio, mesmo já rasurada, associa‑lhe conotações do campo da viagem e das suas vicissitudes, que, aliás, é um dos elementos biográficos do cronista recuperados para o discurso e para a experiência de vida do narrador de A Fome. Valores simbólicos continuados ainda com a escolha do nome de António Cordeiro para narrador-protagonista do romance Imitação da Morte, com implicações que amplificam aqueles aqui referidos.
*********
Em Daniel de Sá, o diálogo com o cronista quinhentista estabelece-se desde logo, mesmo que de forma indireta, com o título do seu livro, Crónica do Despovoamento das Ilhas, em que uma inversão semântica contrapõe um sentido de crónica divergente do da obra de Frutuoso, que fez da ocupação, desbravamento e povoamento do espaço insular a matéria da sua narrativa.
O livro de Daniel de Sá chama para título o mesmo da sua última narrativa, «em que se fala das causas que levaram muita gente a sair das ilhas e de como era feita a viagem para a Terra de Vera Cruz», como se pode ver na descrição-síntese que antecede o relato (p. 182). Essas causas são de natureza geográfica e geológica (a erupção do Capelo em 1672), mas sobretudo económica, com a degradação da vida social, o aumento progressivo da penúria, a substituição da fartura pela pobreza, de que apenas «escapavam os privilegiados por títulos rendosos ou bem providos de cargos públicos» (p. 187). Situando a ação/a viagem nos finais do século XVII (isto é, um século após a redação da crónica de Frutuoso), a narrativa de Daniel de Sá configura já o reverso da história, ou enuncia talvez uma história nova, aquela cuja matéria será predominantemente a fuga e a dispersão. Em todo o caso, não deixa de sentir-se aqui ainda o eco de Frutuoso, que no seu texto registara o suposto aviso do Infante D. Henrique, o qual «dizem que disse que os primeiros povoadores roçariam e os filhos comeriam, os netos venderiam, e os bisnetos fugiriam» (Frutuoso, I: 59).
Por outro lado, graças a um poder de mimetização da prosa de quinhentos, com o seu discurso chão, o gosto pelo contraste e o balanceamento perifrástico, e lançando mão de um léxico e de uma sintaxe arcaizantes, a escrita de Daniel de Sá ganha o tom e o ritmo que, por este lado, a colocam em diálogo direto com a de Gaspar Frutuoso.
Esse diálogo direto pode situar-se ainda a outro nível, com o cronista «moderno» a convocar o texto de Frutuoso e a comentá-lo, num processo de evidente distanciação irónica:
«Mas ainda, e por lembrar fenómenos vegetais, que mais tarde viriam a transferir-se, como se sabe, para o Entroncamento, refiram-se os nabos a que Frutuoso alude, e cresciam no termo de Ponta Delgada, chegando a ter o tamanho da cabeça de um homem, e outros mais, o que seria de grande proveito se não fossem ocos. Assim que, ao facto de Frutuoso comparar nabos ocos a cabeças de gente, sucedeu o nosso costume de comparar a nabos as cabeças mais vazias.» (Sá, 1995: 70)
Este cronista «moderno» balança-se entre o presente e o passado (aqui a referência ao Entroncamento, noutro lado a Foz Côa), chama a si o estatuto de comentador avisado e preocupado em bem formar o leitor, por vezes ostensivamente mais informado que o seu antecessor e discutindo-lhe as explicações e os termos científicos, outras vezes sentencioso e ingenuamente opinativo, o que é ainda uma forma de ironia; ou então subvertendo o sentido da história e a lógica dos comportamentos expectáveis e desfazendo o jogo do decoro e das aparências sociais, como no episódio das freiras de Vale de Cabaços, hoje Caloura, ameaçadas por um barco de piratas. Sem hipótese de auxílio institucional, dada a lentidão da burocracia, tendo-se os camponeses posto em fuga, o socorro veio, afinal, de algumas mulheres de Água de Pau
que desceram até às pedras do porto, dispostas a defender a honra das professas sacrificando a sua, se preciso fosse, ainda que, sem confissão declarada, entre si caladamente entendiam que tal perda não lhes seria desgosto… Não eram aqueles homens valentes por serem corsários e galantes por serem franceses? (Sá, 1995: 73)
É certo que, no final do episódio, Deus encarregar-se-á de proporcionar uma solução conveniente à boa ordem do mundo e das almas, com o mar cada vez mais tempestuoso levando os franceses a tratarem da própria vida. Talvez essa intervenção divina seja o resultado das preces das freiras, pois diz-nos o narrador que elas, «no convento, disfarçavam o seu santo pavor em orações ardentes para que os franceses não alcançassem terra, enquanto, mais abaixo, as voluntárias a salvadoras da sua honra rezavam em silêncio para que o mar amainasse…» (Sá, 1995: 73)
A folha de rosto de Crónica do Despovoamento das Ilhas traz em localização subtitular e parentética a seguinte descrição que constitui o desenvolvimento daquela que já constava da capa: e outras cartas de El-Rei, ou a ele dirigidas, e em que se trata também de muitos outros feitos que a propósito se contam. Trata-se de uma descrição que, para lá do mais, comporta uma informação sobre procedimentos internos, especificamente o recurso ao género epistolar como suporte ou moldura para o relato de um conjunto de acontecimentos insulares (ou com estes relacionados, se pensarmos, por exemplo, na carta de D. Manuel em resposta a outra de Inês da Cunha).
Neste contexto, quer em transcrição direta, quer apresentadas e comentadas por uma voz externa, as cartas facilitam o acesso a acontecimentos pessoais (como a de Inês Cunha), a queixas individuais ou institucionais em que tanto se inscrevem problemas sentimentais como os sinais e a denúncia do desregramento do serviço e dos gastos públicos, num jogo de (dis)simulações em que, por vezes e a partir dos signos do passado e da sua organização narrativa, se podem facilmente detetar as marcas da contemporaneidade do leitor.
Exemplar neste aspeto, enquanto ato de denúncia e exercício de humor, é a «carta supostamente atribuída a Gaspar do Rego Baldaia, e que seria para enviar a El-Rei D. João III, na qual se queixa de um jogo de canas entre cavaleiros de S. Miguel e da Terceira organizado pelo Dr. Manuel Álvares». (Sá, 1995: 44-49). Escrita para denunciar os gastos e desperdícios de dinheiro por parte deste último, desta vez a propósito de um jogo de canas programado com o objetivo de assinalar a inauguração de um marcador dos resultados do jogo, a verdade é que os símbolos identificadores de cada uma das equipas contendoras reenviam de forma óbvia para outro desporto e o jogo de canas não é mais do que uma partida de futebol entre o Santa Clara e o Lusitânia, Que através disso se veicule a crítica a uma política da ostentação e do «pão e circo» é facto que resulta apenas da arte do escritor, em que os anacronismos e os comentários do autor da carta proporcionam uma dupla leitura, a do passado e a do presente.
Daniel de Sá terá sido o escritor da sua geração com um mais seguro e aprofundado conhecimento da história, e não apenas da insular (cito sem rede um depoimento de Avelino de Meneses). Isso nota-se no interior da sua ficção, no aproveitamento que dela faz em diferentes moldes e situações. O caso de Crónica do Despovoamento das Ilhas, que abrange outros domínios temporais para cá dos referenciados por Frutuoso, constitui um momento particular de revisitação intensiva da história insular, aquela história miúda que houve e também aquela que podia ter havido (e já no domínio da ficção). Também esta última entra em diálogo com Frutuoso, na medida em que se apresenta como um aditamento à crónica de quinhentos, uma espécie de adenda em cujo interior o passado insular se constrói como uma «invenção», que, mesmo sendo-o, não deixa de lançar alguma luz sobre o tempo histórico e as suas gentes.
Ao contrário do que acontece em Martins Garcia, onde por vezes encontramos comunidades a que a história nem sequer chegara, em Daniel de Sá a história é um processo dinâmico, em que intervêm homens concretos, as suas glórias, pequenas ou grandes, com as suas fraquezas e misérias, mas capazes de redimir-se. Isto poderá explicar o grau de controlado otimismo, talvez antes bonomia, com que a própria história é vista, com base na crença de que há sempre uma réstia de bondade que dá sentido aos factos e aos gestos individuais e coletivos. «Se a Humanidade resiste a tantas coisas más é porque será decerto melhor do que parece» – conclui sentenciosamente um dos narradores de Crónica do Despovoamento das Ilhas.
Ponta Delgada, 11 de março de 2016
(Encontros Daniel de Sá)
NOTA
[1] Gaspar Frutuoso (1522-1591) nasceu em Ponta Delgada em 1522 e faleceu na Ribeira Grande em 1591. Frequentou a Universidade de Salamanca, onde se bacharelou em Teologia. Autor de Saudades da Terra, crónica que aborda os arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde na perspetiva de um único espaço atlântico.
António Cordeiro nasceu em Angra do Heroísmo em 1640 e faleceu em Lisboa a 22 de fevereiro de 1722. Filósofo e historiador, estudou Filosofia e Teologia na Universidade de Coimbra, em cujo Colégio das Artes lecionou. Como historiador destaca-se pela História insulana das ilhas a Portugal sujeitas (1717), que tem como fonte principal o manuscrito de Saudades da Terra, de Gaspar Frutuoso.
Frei Diogo das Chagas nasceu em Santa Cruz das Flores, em finais do século XVI e faleceu em Angra do Heroísmo, já na segunda metade do século XVII. Historiador, deixou-nos, entre outras obras, Espelho Cristalino em Jardim de Várias Flores,que também acusa a leitura de Gaspar Frutuoso.
REFERÊNCIAS
Gaspar Frutuoso (1984), Saudades da Terra, vol. 1. Ponta Delgada, Instituto Cultural de Ponta Delgada.
Daniel de Sá (1995), Crónica do Despovoamento das Ilhas. Lisboa, Edições Salamandra.
José Martins Garcia (2016), A Fome. Abertura de Luiz Antonio de Assis Brasil. Lajes do Pico, Companhia das Ilhas.